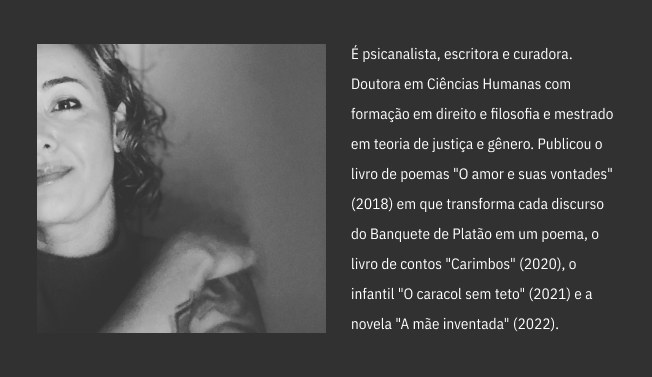Por Samantha Buglione

A primeira vez que eu fui ao Xingu de Altamira era final de março deste ano. Naquela terra sem fim de tão grande que é, bem perto de Porto de Moz, Dona Santana, sentada no seu sofá quase colado a tv de tubo ligada pela força de um gerador a diesel, me cantou uma ladainha quilombola, em latim. Foi a resposta ao meu pedido por uma cantiga de sua infância.
Da música em latim na voz de uma quilombola a um gerador a diesel na terra de Belo Monte me vejo observando o Xingu desde então a partir de ausências e ocupações, e das contradições que tão bem o Brasil produz.
Este território, também chamado de última fronteira, protagonista da guerrilha do Araguaia, de tantas riquezas que explicam a presença de Belo Monte, da mineradora Belo Sun e do MST, das terras férteis produzindo o cacao em Medicilândia, da madeira cobiçada e da floresta que para alguns deveria ser pasto e plantação de soja transgênica também é lugar de escassez. Falta luz, água, escolas rurais e escolas indígenas, falta absorvente para as mulheres da etnia Araras e tantas outras que dependem da cesta básica do Estado ou da caridade alheia, falta remédio, identidade, carteira de motorista, segurança e cantigas de infância. Também faltam histórias. O tiroteio de interesses não só cria escassez, mas se alimenta da vulnerabilidade compondo uma cosmologia muito particular cujas conclusões seriam, mesmo aos mais atentos, superficiais. É fato, o Brasil não é para principiantes, como sentenciou Tom Jobim. Mas, estamos todos a principiar algo, exatamente por estarmos inseridos nas nossas estruturas formadoras cheia de impensáveis.
O jogo de interesses é tão intenso que duvidaria da capacidade de Albert O. Hirschman, autor do livro “As paixões e os interesses” ou Carl Schmitt com seus amigos e inimigos morais ou Benjamim e seu olhar sofisticado sobre classes, darem conta da rede complexa ali presente. As relações de poder e dominação e os corpos domesticados são elementos importantes para pensar a cena. Falta, além das faltas todas, poder. O poder que confere um lugar para as vozes, autoridade e autonomia. Um poder que permite negociar o negociável e dizer não ao inegociável. Um poder que autoriza desejos e vontades.
Quando perguntei para mulheres Araras se recebiam absorvente na cesta básica do governo a expressão foi de surpresa, nunca estranharam não ter, tampouco pensaram em pedir. Como se algo deste corpo estivesse fora do conceito de básico e necessário; pertencendo a outra ordem cujo sentido vigente de pessoa humana é seletivo. Vivemos ainda na regia de conceitos cerrados (e cercados) sobre o humano e papeis sociais. Quando uma comunidade Arara, de contato mais recente com o branco, parece estar andando entre mundo e por isso não encaixa-se facilmente em um papel social e moral previamente pensado passa a pertencer a lugar algum. Não é nem o índio do imaginário romântico do branco ocidental, nem um branco integrado capaz de ter carteira de motorista, renda própria e escolher as compras do supermercado, inclusive a marca do absorvente ou dispor além do usufruto da própria terra.
O mundo nos escapa e assim banalizamos e balizamos o que vemos a partir dos nossos olhares. Até aí tudo bem, o problema é crer ser este olhar a totalidade. Somos parte. Por isso, varias fontes são importantes, mas não bastam, os informantes também não, ainda mais se pertencerem a mesma paleta de amigos morais, para usar Schmitt. Precisamos da dúvida. Precisamos questionar o mais certo dos santos, o mais certo dos certos e os demônios todos diante de nós. Precisamos estranhar a cantiga em latim, a tv que precisa do gerador a diesel e a falta de absorvente. Porque a pergunta nos convoca a escutar. E a escuta é um caminho para nos conectar a estes outros tão estranhos, mas tão próximos de nós. A pergunta nasce no estranhamento. Com este estrangeiro, as vezes cidadão da mesma terra. Aqui o confronto é necessário. O de interesses, o de vontades, o de necessidades. Um confronto que pressupõe pessoas com poder sobre a própria voz e sobre a escolha do caminho.

Apesar de me faltar repertório que só a convivência de tempo dá, me sobra a distância capaz de estranhar algumas normalidades ou os fios soltos nas falas cheias de certezas. Conheço algumas comunidades nativas brasileiras, como os Guaranis e Xoklen no sul do Brasil e os Yawanawa, do cacique Iskukua Yawanawa, no Acre e agora duas comunidades da etnia Arara, no Xingu, mas não as visito como pesquisadora ou como profissional vinculada a alguma instituição, apenas e simplesmente como alguém em busca de historias e estórias, de imagens capazes de me mostrarem semelhanças e diferenças em relação ao meu mundo, uma forma de eu conseguir fazer as perguntas que me escapam. Busco o confronto.
Das comunidades do sul do Brasil conheço, de experimentar, de pedir ajuda para o seu Alcindo, mais conhecido como Whera Tupã, um chá para me curar da tosse. Wherá Tupã, um guarani cuja certidão de nascimento informa ter uns 110 anos, mas dizem ser mais, porque foi registrado quando já andava, me admoestou certa vez: “quem precisa tem que andar, menina”. É, eu sei seu Wherá Tupã, quem precisa tem que andar. E cá estou olhando para o Xingu a partir das terras do seu Alcindo, em Palhoça e olhando seu Wherá Tupã a partir do Xingu e pensando nas placas solares que estão sendo colocadas lá nas terras dos Yawanawa no Acre, depois de grandes articulações internacionais impulsionadas pelos rituais da Ayauaska, que acabaram por se tornar um fator identitario e de autoridade dos Yawanawa, de poder, portanto.
A minha segunda vez no Xingu de Altamira foi para participar da 5ª FLIX (Festa Literária Internacional do Xingu). Neste mês de novembro experimentei o céu acizentado pela fumaça de uma floresta que queima. Tudo ardia. Era difícil respirar. Não visitei Dona Santana e senti saudades do céu estrelado que vi de sua casa, algo impossível neste momento. Mas, conheci Karamyum, Thyanan, Tijtpotem, Tjidai, Guaraciara, Tjigua e outros Araras moradores de duas aldeias próximas de Medicilândia e Brasil Novo.
Também fui pintada por Ococrea, uma Xikrin, que estava na feira literária acompanhada de outros índios e técnicos de uma das tercerizadas envolvidas nas contrapartidas de Belo Monte. Naqueles dias faleceu um ancião Xikrin e o acesso às comunidade ficou prejudicado em função do luto. Com a morte de um ancião morre junto uma história toda, “tá tudo na cabeça dele”, me disse uma das poucas nativas Xikrin que falava português (já eu, infelizmente, não falo língua alguma de Pindorama).

A noticia da morte me fez pensar no seu Whera Tupã e no quanto precisamos que a oralidade seja, em alguma medida, escutada. Precisamos escutar para preservar. Vendo as comunidades dos Araras que visitei e seus trânsito entre mundos admito me sentir diante de um povo e cultura se transformando e, em alguma medida, condenados a desaparecer porque lhes é negado, muitas vezes, o direito de mudar.
Imagino se a língua portuguesa não tivesse incorporado o Kimbundo ou Umbundo de Angola ou as línguas nativas brasileiras. Desapareceria. O movimento nos mantém vivos. E condenar os nativos brasileiros a serem apenas uma coisa é liquidá-los. Tal qual liquidamos um desejo quando o encarceramos num formato imutável. Confesso que minha vontade pelas histórias torna-se ainda maior porque são elas o elo infinito entre os tempos, entre territórios, entre gerações e culturas e entre saberes. As histórias fazem a trilha para andarmos e isso basta. Das incorporações, sejam elas culturais ou geografias, é preciso repetir incansavelmente o quanto os nativos brasileiros, enquanto posseiros de suas terras, as preservaram e ainda o fazem num ecossistema saudável. Eles são a terra e a floresta. O que parece não ser saudável é a forma com que andamos, nós os cara pálida, a gerenciar e idealizar tudo isso; principalmente quando esvaziamos esses sujeitos do seu poder de escolha e deliberação.
Para a casa eu trouxe na minha pele um riscado pintado com carvão e genipapo por Ococrea, cujo sentido é o de ornar o corpo. Apenas esse, e isso basta. Sem nada mítico, além da vontade. Algumas coisas bastam em si e isso é fartura. Ai reside algo difícil do branco aprender e entender: quando basta.
Tenho receito em pensar o que minhas próximas idas ao Xingu e a Altamira irão me mostrar. A seca severa muda a paisagem tanto quanto a soja e o gado e empreendimentos em busca de riquezas escondidas que denunciam a cegueira diante das visíveis. Sempre é um risco eleger viver algumas coisas. Mas desejar e ter expectativas também é condição para que alguns movimentos aconteçam. Espero rever Dona Santana, ver a noite na rede de sua casa, rever Ococrea e Karamyum e delas ouvir histórias antigas e ouvir não precisarem mais usar paninhos nos dias das regras.