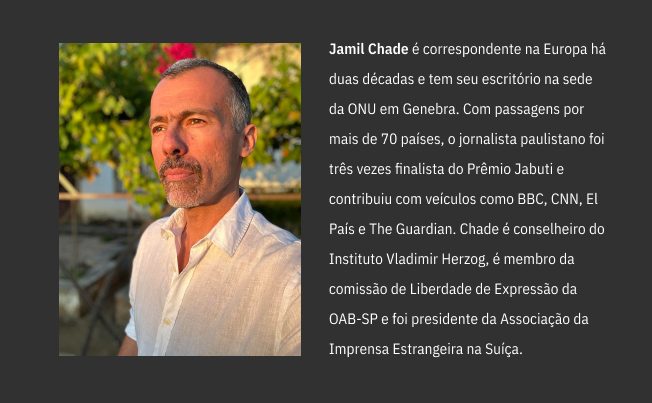Por Jamil Chade.

José Ramos Horta surpreendeu quando, em setembro, subiu ao púlpito da ONU e levou um discurso de esperança. Para ele, o país que preside, o Timor Leste, é a prova que anos de conflitos podem ser substituídos por um exemplo de convivência.
Em entrevista exclusiva ao Portal Vozes, o vencedor do Prêmio Nobel da Paz e atual chefe de estado do único país de língua portuguesa da Ásia conversou sobre o futuro da ONU, a ruptura de confiança entre as potências e o papel que o Brasil pode desempenhar na construção de um novo multilateralismo.

Mas, acima de tudo, ele propõe o fim do poder de veto para os membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU. Só a ampliação do órgão não será suficiente.
Para ele, a fratura entre as grandes potências é, hoje, muito profunda. “O Conselho de Segurança é quase irrelevante”, alertou.
Porta-voz da resistência timorense no exílio durante a ocupação indonésia entre 1975 e 1999, Ramos Horta foi o chefe da diplomacia de seu país a partir da independência, em 2002. Sua história se confunde com o percurso do mundo em português nas últimas décadas.

Com mãe timorense e pai português, ele foi educado numa missão católica e chegou a ser exilado em Moçambique. Com apenas 25 anos de idade, foi o Ministro das Relações Exteriores no governo auto-proclamado em 28 de Novembro de 1975. Deixou Timor-Leste apenas três dias antes da invasão indonésia.
Nos anos 90, quando ganhou o Nobel, o Comitê em Oslo justificou que a escolha havia ocorrido por seu “contínuo esforço para terminar com a opressão vigente em Timor-Leste”.
Para ele, os países que tiveram história colonial e de escravatura precisam ter coragem de escrever a história honestamente.
Eis os principais trechos da entrevista:
Chade – Em seu discurso na abertura da Assembleia Geral da ONU, em setembro, o senhor afirmou que o Timor Leste é um exemplo de convivência entre diferentes grupos e que poderia servir de exemplo ao mundo. Qual foi o segredo do Timor para conseguir isso?
Ramos Horta – Com muita humildade, muito sentido de compreensão do outro lado, muita análise de que nem todos os erros são partilhados apenas por um lado, e que todos tem o direito a uma segunda chance. Todos têm o direito à paz e tranquilidade, e é preciso colocar para trás o que pertence à história. Não permitir os capítulos negros da história determinem o presente.
Como superar a relação ainda complicada entre países ricos e emergentes, entre ex-colônias e ex-metrópoles?
Por um lado, que os países ricos, que tiveram uma história colonial e de escravatura, tenham a coragem de escrever a história honestamente. E não continuar com a história contada pelas perspectivas coloniais, no sentido de que o colonialismo e a escravatura eram inevitáveis ou eram normais. E que algo de bom surgiu de todo esse processo.
Hoje, muitos povos exigem isso. No Timor Leste, não minimizamos a história. A história que foi bonita, que foi feia, trágica. Honramos nossos heróis, mártires. Mas temos de viver o presente e construir o futuro. Isso tudo para que, aqueles que morreram, saibam que morreram por uma sociedade que, hoje, é livre, tolerante e sem guerras.
No caso da África, a tragédia não terminou com o fim do colonialismo. Nem da América Latina. Surgiram na África, Ásia e América Latina ditaduras sangrentas e que provocaram genocídio. Por isso, precisamos conduzir isso tudo em perspectiva para, na nossa busca justa por escrever a verdade, não esconder as outras verdades trágicas que, depois da independência, surgiram. Apareceram novas tragédias que não podemos jogar a responsabilidade ao colono.
Ou seja, contar sempre a história completa.
Exato. O que nós fizemos? Preferimos falar dos nossos heróis, mártires, falar e aceitar a verdade. Mas sem perseguições políticas e nem o estabelecimento da Justiça dos vencedores.

O sr. esteve na Assembleia Geral da ONU. O que sentiu em termos de clima entre os líderes? A fratura é mesmo profunda?
A fratura é muito profunda. Vemos um Conselho de Segurança quase irrelevante. Mas, não vamos minimizar toda a ONU. As agência – como OMS, Acnur, o Programa Mundial de Alimentação ou Unicef – estão salvando vidas humanas. Todos os dias. Portanto, a ONU não está reduzida ao Conselho de Segurança. Essas agências lutam com extrema dificuldade financeira. O orçamento da ONU está muito desfalcado e seus funcionários enfrentam riscos graves às suas vidas na Síria, Iemen, Afeganistão, Mianmar e tantos outros lugares.
Nesta fratura, vocês estão muito próximos geograficamente da China. Mas vivem uma democracia. Existem temores de que o modelo chinês possa começar a prevalecer?
Nós não copiamos o modelo chinês. Copiamos, se assim que pode dizer, a democracia que nasce na Grécia, o modelo de Westminster ou pós-Revolução Francesa. Portanto, o que é democracia, liberdade e fraternidade. Mas Timor Leste não faz julgamento de outros regimes políticos. Eu pessoalmente não sou um romântico democrático. Mas quando a democracia não resolve os problemas do desemprego, da sociedade, das pessoas sem casa, das exclusões, então essa democracia não serve.
Então, surgem os demagogos da extrema direita ou extrema esquerda, com promessas falsas e soluções fáceis. Ganham poder. Mas, como não conseguem resolver esses problemas, caem.
Existe um risco de que essas duas grandes hegemonias se enfrentem?
As superpotências têm mecanismos de controle que não permitem que os presidentes decidam, sozinhos, os grandes assuntos da humanidade, de guerra e de paz. O presidente americano não aperta o botão da arma nuclear com facilidade, com muito controle. E há mecanismos de alerta e de diálogo. Todos sabem que uma guerra nuclear não resolve nem o problema da Rússia, nem dos EUA e nem da China.
Uma intervenção armada entre as grandes potências seria catastrófica para cada um deles e para a humanidade. Por isso, não acredito que seja possível chegar a um conflito total entre as grandes potências. Mas preocupam as tensões permanentes desde 2017, desde Donald Trump, e que não foram reduzidas pelo presidente Joe Biden, com a guerra na Ucrânia.
No caso ucraniano, temos de entender que, se eu for atacado, não vou ser seletivo nos meus amigos. A Ucrânia busca apoio em todo lado.
Mas é uma guerra que não vai ser solucionada no campo militar
Não. Já se viu isso. Putin superestimou as capacidades militares russas, subestimou a Ucrânia, subestimou a OTAN e arrastou seu país para um pântano. E arrasta o resto do mundo a esse conflito, com as consequências para as economias do mundo.
O presidente Lula ainda acha que pode existir um espaço de negociação para encerrar a guerra na Ucrânia. O sr. acha que o diálogo ainda pode existir?
Ainda pode existir, claro. Não vejo melhores interlocutores que o Brasil, Indonésia, Turquia, Índia, África do Sul e mais a China para falar de paz.

A China também?
Sim. Para a China, não interessa um confronto neste momento com os EUA. Não interessa a continuação da guerra, que afeta a economia mundial e afeta a Rússia. E isso tudo afeta a China.
Mas, sem uma reforma do Conselho de Segurança da ONU, qual o destino de todos esses conflitos armados?
Se for uma reforma apenas para aumentar o número de países com assentos permanentes, não me parece que vá resolver o problema. É necessário para que haja maior representatividade do mundo no Conselho. Como se explica que países como o Brasil, México, Nigéria, Etiópia, Senegal, Quênia, não estejam no Conselho? Como explicar que a Índia, com uma das maiores populações e economias do mundo, fique de fora, assim como a Indonésia.
Tudo isso é apenas para tornar o Conselho mais representativo do mundo hoje. Mas não significa que vai ser mais eficiente.
Para isso, precisamos acabar com o veto e decisões de guerra e paz, de intervenção e sanções econômicas devem ser resolvidas por maioria de dois terços do Conselho de Segurança.
Nessa construção de um novo multilateralismo, qual o papel da língua portuguesa e da CPLP?
A língua é fundamental para os países da CPLP. Nos aproxima de forma cultural, intelectual e até sentimental. Não se pode diminuir a importância disso.
Mas a língua em si não faz decisões. O inglês não tem seu poder por si só. Mas pelo peso econômico dos países que falam essa língua. No caso da língua portuguesa, o Brasil tem peso por sua dimensão física, por todos os recursos estratégicos que têm, pelo Amazonas, pela ciência, pela Embraer. Portanto, o Brasil é uma potência econômica regional.